Demorei para iniciar esse canal de comunicação, um espaço onde posso me permitir devaneios e aprofundar debates urgentes acerca do sexo, sobretudo em um contexto onde a tecnologia e as plataformas digitais atuam como mediadoras de boa parte das nossas relações sociais. A complexidade do tema exige uma abordagem multifacetada, que transite entre o pessoal e o político, o privado e o público, o íntimo e o comercial.
O ápice da coragem para finalmente colocar esse primeiro texto no ar veio, ironicamente, de uma enxurrada de denúncias que venho recebendo no meu perfil do Instagram. Não há um dia sequer em que não me depare com alguma notificação alardeando "conteúdo sexualmente sugestivo" ou "conteúdo sexualmente explícito". Se você se aventurar pelo meu perfil, encontrará uma constelação de textos, aglomerados de palavras em cards que, por sua própria natureza e pela lógica da rede social de consumo rápido, carecem de maior aprofundamento. Talvez, com sorte, você encontre uma foto ou outra. Aliás, a mera ideia de postar uma foto de biquíni já me causa arrepios, pois o risco de ter o perfil suspenso é real.
Se o meu perfil, que essencialmente veicula conteúdo de divulgação científica, enfrenta essa vigilância draconiana, vocês não conseguem nem imaginar o que as pessoas que efetivamente trabalham com sexo também passam. Muitos podem, com um ar de superioridade moral, prontamente problematizar: "Mas estão vendendo sexo!". Na real, não. Ali existem corpos, assim como o da sua blogueira "de bem-estar" ou "fitness", que em trajes de ginástica ou tomando sol no fim de semana, esbanja naturalidade enquanto vende gummies de suplemento natural. A diferença, perversamente arbitrária, reside na moralidade do corpo e na licitude do desejo que cada um representa.
A verdade nua e crua é que essa dificuldade, que atinge tanto a mim, enquanto divulgadora científica, quanto os trabalhadores sexuais, nos coloca sob o guarda-chuva infame do Instagram, intitulado "adult content". E quais são os problemas intrínsecos a essa categorização? E, mais importante, de onde emana essa questão? A resposta nos leva a uma política aprovada durante o primeiro governo Trump nos Estados Unidos: a SESTA/FOSTA.
As Engrenagens da Censura: Da SESTA/FOSTA às Políticas do Instagram
A aprovação da Stop Enabling Sex Traffickers Act (SESTA) e da Fight Online Sex Trafficking Act (FOSTA) nos Estados Unidos em 2018 representou um marco legislativo impulsionado por um contexto político complexo e por uma coalizão bipartidária que incluía grupos conservadores e ativistas antitráfico. O objetivo declarado era responsabilizar provedores de serviços online pelo conteúdo de tráfico sexual em suas plataformas.
Conforme argumenta Carolyn Bronstein (2021) em "Deplatforming Sexual Speech in the Age of FOSTA/SESTA", essas leis alteraram a Seção 230 da Communications Decency Act, que historicamente concedia imunidade a plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Com a nova legislação, a ameaça de litígios e a criminalização de condutas que "facilitassem" o tráfico levou grandes corporações de tecnologia, como o grupo Meta (proprietário do Facebook, Instagram, entre outros), a acatar vigorosamente as diretrizes. Isso resultou na implementação de políticas de moderação de conteúdo extremamente rigorosas e, muitas vezes, indiscriminadas, que Bronstein descreve como o "deplatforming" (desplataformização) de uma vasta gama de conteúdos sexuais, impactando não apenas o tráfico, mas também o trabalho sexual consensual e outras formas de expressão sexual online. O receio de sanções legais e a pressão pública levaram a uma interpretação ultra-conservadora do que constituía "conteúdo problemático", gerando uma espécie de efeito cascata censório.
No Brasil, a incidência da SESTA/FOSTA foi sentida de forma indireta, mas significativa, através da ação de plataformas digitais globais. Imediatamente após a aprovação dessas leis, grandes plataformas como a Meta (e seus produtos, como Instagram e WhatsApp) e o Google começaram a endurecer suas políticas de uso e moderação de conteúdo para se adequar à nova legislação americana. Isso gerou um efeito cascata global, impactando usuários e prestadores de serviço em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. A exclusão massiva de perfis e conteúdos, especialmente aqueles ligados ao trabalho sexual online, revelou a profunda dependência do trabalho digital em relação às plataformas e a fragilidade desses trabalhadores diante das decisões unilaterais das empresas. O debate se acendeu sobre a descentralização e a precarização do trabalho digital, questionando o controle das plataformas sobre os meios de subsistência de indivíduos (Caminhas, 2024; Melo, 2024).
A censura de conteúdo de profissionais do sexo levantou questões cruciais sobre a regulação de dados sensíveis (como os dados de orientação sexual ou atividade profissional) e o papel das plataformas como governança digital transnacional. O que as plataformas consideram "ilegal" ou "inapropriado" nem sempre se alinha com as leis e os direitos locais, gerando um vácuo regulatório e a imposição de normas externas. Embora o objetivo da SESTA/FOSTA fosse combater o tráfico infantil, a forma como foi implementada pelas plataformas gerou um debate complexo sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A generalização das exclusões levou a questionamentos sobre se as políticas das plataformas, na prática, não estariam equiparando todo o trabalho sexual à exploração, dificultando a distinção e, em alguns casos, expondo os profissionais do sexo a riscos ainda maiores ao empurrá-los para o anonimato ou para plataformas mais precárias. Esse "apagão" expôs as desigualdades digitais em um novo nível: enquanto alguns tinham o conhecimento e os recursos para migrar, muitos foram marginalizados, tendo seu acesso à internet como ferramenta de trabalho severamente comprometido. O debate sobre justiça informacional ganhou força, questionando quem tem o direito de estar conectado, de se expressar e de gerar renda através das plataformas.
Esse cenário de vulnerabilidade se aprofundou com as recentes mudanças nas políticas de moderação do grupo Meta, que, de 2020 até a presente data, sob a roupagem da "liberdade de expressão" e a implementação de "Notas da Comunidade", têm favorecido um ambiente de maior insegurança digital. Em 2020, o Meta reportava melhorias na tecnologia para encontrar e remover conteúdo de nudez infantil e exploração sexual. Em 2023, a empresa intensificou o combate a predadores online, desativando milhares de contas e grupos, e expandindo a detecção automatizada de termos relacionados à segurança infantil. No entanto, as alterações mais recentes e preocupantes, especialmente a partir de janeiro de 2025, mostram um retrocesso em medidas de segurança. O Meta alterou sua política de "Conduta de Ódio" para permitir mais conteúdo discriminatório direcionado a pessoas trans, imigrantes e mulheres, incluindo "alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual". Além disso, a transição para um sistema de "Notas da Comunidade" em substituição à moderação proativa e aos verificadores de fatos independentes significa que o Meta, por sua própria admissão, "pegará menos coisas ruins" em seus serviços.
Essas políticas têm impactos diretos nas comunidades que trabalham com sexo, intensificando a desumanização e a marginalização, e fragilizam a proteção de crianças e adolescentes. Embora o Meta reporte um "aumento na detecção" de conteúdo violento e gráfico em 2024, atribuído a refinamentos tecnológicos, a substituição da moderação automatizada pode camuflar a real prevalência da violência ao reduzir a capacidade proativa de identificação. Em um país como o Brasil, onde não possuímos um marco regulatório específico para dados sensíveis e para a atuação de plataformas transnacionais nesse contexto, essa governança digital unilateralmente imposta pelas grandes corporações aprofunda a fragilidade e a desproteção de grupos vulneráveis.
Proteção para Quem? O Paradoxo da Segurança Digital e a Falácia dos "Predadores Sexuais"
E o que toda essa parafernália de "segurança" digital proporciona? Proteção para ninguém. Nem para crianças e adolescentes, e muito menos para profissionais do sexo. Menos ainda uma política organizada para detectar os famigerados "predadores sexuais". Essa noção, inclusive, é bastante problemática, pois emana de políticas higienistas que historicamente criaram perfis criminalizáveis. Não por ironia, durante os anos 1960 e 1970, homossexuais eram acusados de pedofilia, evidenciando a fragilidade e a perversidade de tais categorizações. Então, a questão é bem mais complexa do que uma mera caça às bruxas digitais.
Mais ainda porque, se não temos uma regulação específica e eficaz das redes, já possuímos outras regulações legais que abarcam esses crimes, sem a necessidade de criminalizar uma condição psicológica, como a pedofilia. Pelos estudos na área, e até mesmo na formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Código Penal Brasileiro, muitos dos agenciadores não são propriamente pedófilos. Isso demonstra a ineficácia de focar apenas em perfis psicológicos pré-concebidos, em vez de atuar sobre as condutas criminosas em si.
Vamos aos artigos que fundamentam essa argumentação:
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990:
Art. 240: Tipifica o crime de produção, reprodução, veiculação ou armazenamento de imagens ou vídeos com cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, com penas que variam de 3 a 6 anos de reclusão. Este artigo é crucial para combater a exploração sexual infantil online.
Art. 241-A: Criminaliza a oferta, troca ou disponibilização de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de 4 a 8 anos de reclusão.
Art. 241-B: Aborda a comercialização ou o aluguel de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de 4 a 8 anos de reclusão.
Art. 241-C: Incrimina a participação em gravação ou filmagem de cena de sexo explícito ou pornografia com criança ou adolescente, com penas de 4 a 8 anos de reclusão.
Art. 241-D: Trata da divulgação ou transmissão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de 4 a 8 anos de reclusão.
Art. 241-E: Penaliza a produção, veiculação, divulgação ou distribuição de material pornográfico com uso de criança ou adolescente, mesmo que não envolva cena de sexo explícito, com penas de 3 a 6 anos de reclusão.
Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei nº 2.848/1940:
Art. 217-A (Estupro de Vulnerável): Um dos artigos mais importantes, que protege a criança e o adolescente de qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos, ou que por enfermidade ou deficiência não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Este artigo é fundamental para coibir a exploração sexual de vulneráveis, independentemente do consentimento.
Art. 218 (Corrupção de Menores): Tipifica a conduta de induzir ou facilitar a prostituição ou outra forma de exploração sexual de alguém menor de 18 anos, ou com ela praticar ato libidinoso ou manter relação sexual. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos.
Art. 218-A (Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente): Criminaliza a prática de ato libidinoso na presença de criança ou adolescente, ou em lugar com a intenção de ser vista por eles, para satisfazer a própria lascívia ou a de outrem. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos.
Art. 227 (Rufianismo): Aborda a exploração da prostituição alheia, que pode se estender ao contexto online. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos.
Art. 234-A (Pornografia com Crianças e Adolescentes): Similar aos artigos do ECA, este artigo do Código Penal, quando aplicado, coíbe a produção, veiculação, divulgação, comercialização, importação ou exportação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de 4 a 8 anos de reclusão.
Esses artigos demonstram que o Brasil já possui um arcabouço legal robusto para combater crimes de exploração sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. A criminalização deve focar na conduta, no ato criminoso em si, e não em categorizações psicológicas que podem ser imprecisas e, como a história nos mostra, facilmente distorcidas para perseguir minorias sexuais.
Analisando reportagens e as pesquisas de amigos que se dedicam ao tema, as redes sociais têm, de fato, produzido outros problemas que não são propriamente sexuais, mas desafios relacionados ao Discord ou outras plataformas que levam a mutilação, suicídio, automutilação, etc. Isso evidencia que a obsessão por uma suposta "pornografia" como raiz de todos os males desvia o foco de problemas estruturais e comportamentais muito mais complexos e que demandam abordagens multidisciplinares, incluindo saúde mental, educação e segurança digital.
Por Que Falar de Pornografia Incomoda Tanto?
Vivemos um momento em que a pornografia voltou com força ao centro do debate público. Todos os dias, alguma reportagem, vídeo viral ou publicação no feed anuncia os "perigos" do acesso precoce, do vício, da indústria ou das consequências morais. Com isso, vemos se consolidar uma nova norma discursiva — para usar a brilhante análise de Michel Foucault — que transforma certas interpretações em verdades absolutas. E, como toda verdade produzida em um regime de saber-poder, ela passa a organizar práticas, afetos e formas de julgamento.
Foucault nos ensina que a sexualidade não é uma essência natural, mas um dispositivo de poder construído historicamente. A "pornografia", nesse sentido, não é um objeto neutro, mas um campo de batalha onde se disputam sentidos, valores e, acima de tudo, formas de controle social. O incômodo que ela gera, portanto, não é meramente moral, mas político.
Mas o que me chama atenção é que essa “verdade” sobre a pornografia tem sido muitas vezes sustentada por perfis que não vêm da pesquisa, da educação sexual, nem do debate crítico sobre mídias e sexualidade. São coaches, influenciadores de "bem-estar", vendedores de "autocontrole" que mesclam discursos sobre pornografia com mindfulness, produtividade e espiritualidade. Não se trata apenas de uma opinião: é uma economia moral em expansão, que vende fórmulas de salvação individual para um problema que é intrinsecamente social, político, cultural e histórico.
Quando alguém aparece para tensionar essa lógica — trazendo outras leituras, dados de pesquisa, reflexões complexas — os ânimos se acirram. Eu já estou acostumada com a efervescência do debate. Mas é importante afirmar: o desacordo não precisa vir com desrespeito. A crítica pode (e deve) ser contundente, mas jamais descredibilizar o trabalho sério de quem pesquisa, escuta, se implica.
A aversão à discussão aberta sobre pornografia se conecta com o que Gayle Rubin, em seu seminal ensaio "Pensando o Sexo: Notas para uma Teoria Radical da Política da Sexualidade", chamou de hierarquias sexuais. Rubin argumenta que a sociedade ocidental construiu um sistema hierárquico de valor para as práticas sexuais, onde algumas são consideradas "boas, normais, naturais, saudáveis, sagradas" (como o sexo monogâmico, heterossexual, procreativo) e outras são vistas como "más, anormais, não naturais, insalubres, profanas" (como a homossexualidade, o trabalho sexual, o BDSM, e muitas formas de pornografia). Esse sistema de valor é intrínseco à forma como a sexualidade é policiada e como as políticas securitárias e de resgate são formuladas.
Nesse contexto, a demonização da pornografia, especialmente aquela que desafia as normas heteronormativas e mononormativas, serve para reafirmar essas hierarquias. O foco no "perigo" da pornografia desvia a atenção das desigualdades estruturais que produzem vulnerabilidades reais. Como Didier Fassin e Laura Augustin apontam em seus estudos sobre o governo dos corpos e as políticas de controle da sexualidade, muitas intervenções que se dizem de "resgate" ou "proteção" acabam por reforçar estigmas e marginalizar ainda mais aqueles que já estão em posições precárias. A intervenção é menos sobre proteger e mais sobre normalizar e controlar.
Ainda, o discurso sobre o "perigo" da pornografia pode ser instrumentalizado para fortalecer a lógica das "mães de segurança" (security moms), conceito trabalhado por Inderpal Grewal no artigo "Security Moms and the Gender of Security". Grewal analisa como a figura da mãe protetora é mobilizada em discursos de segurança nacional, onde a proteção da família e da infância se torna um pilar para justificar medidas de controle e vigilância, muitas vezes com viés moralista e conservador. A preocupação com a pornografia se encaixa perfeitamente nesse modelo, transformando-se em uma bandeira para políticas que, em última instância, visam o policiamento da sexualidade e o controle de corpos que escapam à norma.
Falta muita educação digital no debate público. Isso inclui saber escutar, saber discordar, saber que o outro pode estar trazendo algo que desestabiliza porque revela uma camada mais incômoda do que gostaríamos de admitir. A sexualidade é um território movediço, e o incômodo surge justamente quando as certezas morais são postas em xeque.
. O debate público exige ética, responsabilidade e respeito pela pesquisa e pelas experiências alheias. E se vamos falar de pornografia, que seja com responsabilidade, compromisso com os fatos e disposição real de escutar — inclusive o que nos desafia e nos tira da nossa zona de conforto moral.
O Sexo "Aceito" e o Sexo "Bom": Uma Questão de Poder e Hierarquia
Para concluir, e retornando às ideias provocadoras de Gayle Rubin em "Pensando o Sexo", a pornografia incomoda porque ela expõe a arbitrariedade das hierarquias sexuais que estruturam nossa sociedade. A questão central não é se o sexo é "certo" ou "errado", mas sim qual sexo é aceito e qual sexo é considerado "bom".
Rubin postula que a sociedade constrói uma escala de valor para os atos sexuais, onde o sexo procreativo, monogâmico, heterossexual e realizado dentro de casamentos heterossexuais é elevado ao topo, enquanto outras práticas, como o sexo casual, a homossexualidade, a prostituição e a pornografia, são marginalizadas, patologizadas e, muitas vezes, criminalizadas. O "bom sexo" é aquele que se alinha com as normas sociais e morais dominantes, enquanto o "mau sexo" é aquele que as desafia.
Quando o Instagram, com suas políticas de moderação, denuncia um conteúdo como "sexualmente sugestivo", ele não está apenas censurando uma imagem; ele está reforçando essa hierarquia. Ele está dizendo que o meu corpo, ou o corpo de um trabalhador sexual, mesmo que em contexto informativo ou artístico, é inerentemente mais "sexual" e, portanto, mais "perigoso" do que o corpo de uma blogueira fitness vendendo gummies. Essa distinção não é natural, mas construída socialmente e mantida por mecanismos de poder.
Portanto, falar de pornografia e do incômodo que ela gera é, em última instância, falar sobre poder: o poder de definir o que é "normal" e "desviante", o poder de controlar corpos e desejos, e o poder das plataformas digitais transnacionais de impor uma moralidade global que nem sempre se alinha com os direitos e as realidades locais. É um convite a questionar as hierarquias sexuais que produzem desigualdades, as políticas securitárias e de resgate que, muitas vezes, servem para controlar em vez de proteger, e o policiamento moral que sufoca a liberdade de expressão e a autonomia sexual.
A conversa sobre pornografia é um espelho que reflete as nossas próprias ansiedades sobre o sexo, o corpo, o desejo e o controle social. Estamos dispostos a olhar para esse espelho com honestidade e criticidade, ou preferimos manter as cortinas fechadas, perpetuando a ignorância, a hipocrisia, a patologização e medicalização do sexo, da sexualidade e do desejo?
Para você que quer dicas de leituras e aprofundar o debate:
AUGUSTIN, Laura Maria. Sex at the Margins, Labour, Markets and the rescue Industry. 2005.
BRONSTEIN, Carolyn. Deplatforming sexual speech in the age of FOSTA/SESTA. Porn Studies, v. 8, n. 4, p. 367-380, 2021.
CAMINHAS, Lorena. The politics of algorithmic rank systems in the Brazilian erotic webcam industry. Porn Studies, v. 10, n. 2, p. 174-190, 2023.
CAPONI, Sandra. Biopolítica e medicalização dos anormais. Physis: revista de saúde coletiva, v. 19, n. 2, p. 529-549, 2009.
FASSIN, Didier. Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida. Hacia una antropología de la salud. Revista colombiana de antropología, v. 40, p. 283-318, 2004.
FOUCAULT, Michael. História da sexualidade I.
GREWAL, Inderpal. " Security Moms" in the Early Twentieth-Century United States: The Gender of Security in Neoliberalism. Women's Studies Quarterly, v. 34, n. 1/2, p. 25-39, 2006.
MELO, Cristiane Vilma de. Desejo, trabalho e agenciamentos: a (des) Plataformização do trabalho sexual no contexto brasileiro. 2024.
PARREIRAS, Carolina. Reflexões sobre big data, sexualidades, datificação e moralidades no pornô digital: a “novinha” como categoria de classificação e indexação. Mana, v. 30, n. 2, p. e2024015, 2024.
RUBIN, Gayle. Políticas do sexo. Ubu Editora LTDA-ME, 2018.


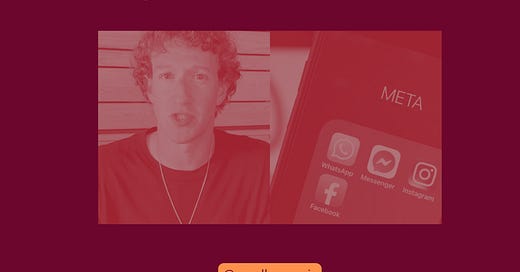


Publiquei no meu Substack, há alguns dias, uma poesia sobre os ditos interditos: https://open.substack.com/pub/luizdeoliveira/p/interditos?utm_source=share&utm_medium=android&r=16iq3